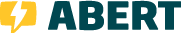Regulação da publicidade de alimentos
- Artigos
- Acessos: 8498
Valor Econômico
Legislação & Tributos - Publicidade
Por Luís Roberto Barroso
Proibir anúncio é uma forma autoritária e equivocada de proteger e de educar
Um projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa de São Paulo impunha restrições à publicidade de alimentos e bebidas, consumidos pelo público infantil, que contivessem alto teor de açúcar, gordura ou sódio. O projeto foi fundamentadamente vetado pelo governador. Dentre outras razões, a disciplina da publicidade é reservada à lei federal (Constituição, art. 22, XXIX). Vale dizer: leis estaduais ou municipais não podem proibir publicidade, por determinação constitucional expressa. Essa regra aumenta a visibilidade e a abrangência do debate, evita a multiplicidade de regimes jurídicos e reduz o risco de restrições arbitrárias.
O precedente de São Paulo assume uma importância ainda maior pelo fato de a mesma discussão estar sendo desenvolvida em outros Estados e até mesmo em alguns municípios. Em quatro deles - Belo Horizonte, Florianópolis, Goiás e Rio de Janeiro - já houve projetos igualmente vetados com fundamentação semelhante. Segundo os defensores desse tipo de iniciativa, o objetivo central é a proteção das crianças, que seriam mais vulneráveis ao efeito persuasivo da mídia e acabariam sendo induzidas ao consumo exagerado. Um propósito certamente legítimo e desejável. No entanto, o maniqueísmo é quase sempre uma representação precária e distorcida da verdade. Ninguém é contra a promoção da saúde infantil. A questão é definir como isso deve ser feito e de que forma esse objetivo deve ser conciliado com outros, também relevantes.
Nas sociedades abertas e plurais, é frequente que interesses legítimos, protegidos pela Constituição, entrem em tensão, quando não em rota de colisão. É assim em toda parte do mundo. Quando isso acontece, deve-se fazer uma ponderação, buscando a compatibilização e o equilíbrio possível entre as situações contrapostas. No caso aqui comentado, estavam em jogo, de um lado, a proteção da criança e do adolescente e, de outro, a liberdade de expressão e informação, que são associadas à publicidade comercial.
Crianças devem ser protegidas e educadas. Como consequência, não devem estar sujeitas a propaganda enganosa ou abusiva. Tampouco devem ser alvo de anúncios de produtos impróprios para o consumo infantil, como cigarros e álcool. Jovens, ademais, devem ser advertidos dos riscos do excesso de açúcar, de gordura ou de sal, bem como ser incentivados a combinar alimentos saborosos com outros que sejam também saudáveis. Mas proibir anúncio de chocolate, doce de leite ou guaraná é uma forma autoritária e equivocada de proteger e de educar.
A publicidade é um componente importante da liberdade de expressão, de informação e da livre iniciativa. Como qualquer direito, não tem caráter absoluto e está sujeita a limites. Além de reservar a competência ao Congresso Nacional, a Constituição institui também um parâmetro relacionado ao conteúdo das leis que venham a tratar da matéria. Segundo o dispositivo constitucional pertinente, o papel do Poder Público não é o de escolher o que pode ou não ser veiculado, e sim o de estabelecer meios legais que permitam à pessoa e à família se defenderem da publicidade de produtos potencialmente nocivos. Com esses meios, os eventuais abusos podem ser controlados, inclusive pelo Conar, órgão de autorregulação da propaganda.
É bom que seja assim. Em uma sociedade democrática, o papel central do Estado não é o de trocar a liberdade por manuais de instruções para a existência, e sim o de criar condições para a escolha consciente. Mas o projeto de lei vetado pelo governador não incentivava a informação, o esclarecimento ou a moderação. Ele faz parte da cultura da proibição e, sobretudo, da cultura da censura prévia, da qual nunca nos libertamos inteiramente no Brasil. Adultos que não cresceram em liberdade procuram, inconscientemente, reproduzir o mundo em que viveram.
A vida boa é feita de virtudes, prazeres legítimos e riscos calculados. Crianças, portanto, devem ser ensinadas a ter caráter, a não sofrer com culpas desnecessárias e a ser prudentes, mas não medrosas. Ensinar a viver é, em primeiro lugar, obrigação da família. O Estado, por certo, é um coadjuvante importante, mas deve evitar o paternalismo exacerbado e moralismos diversos. Querer impor uma infância sem doce é uma condenação imprópria do desejo natural, e não uma forma de educar para a vida em equilíbrio e harmonia.
Nossos filhos não devem ser enganados e devem ser esclarecidos sobre os riscos da vida. Inclusive os riscos do autoritarismo e do pensamento único, que fazem mais mal do que o açúcar. Por outro lado, devem poder desfrutar dos contentamentos típicos da infância. Ao pretender viver a vida das famílias para poupá-las dos riscos, o Estado não apenas deixa de educar para o exercício responsável da liberdade, como priva as crianças da fantasia e da alegria, matérias-primas essenciais para uma vida feliz.
Luís Roberto Barroso é professor titular de direito constitucional da UERJ