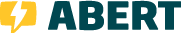A censura se reinventa
- Artigos
- Acessos: 7412
O Estado de S.Paulo
Opinião - Censura
24 de setembro de 2012 |
O Estado de S.Paulo
Tal qual a Hidra de Lerna, cujas cabeças decepadas se regeneravam em dobro, a censura à imprensa no Brasil demonstra notável capacidade de se renovar. O último episódio ocorreu em Macapá, onde um juiz eleitoral mandou que a S.A. O Estado de S. Paulo, empresa que edita o Estado, retirasse do blog do jornalista João Bosco Rabello, no portal estadão.com.br, um comentário a respeito da eleição na cidade.
Na nota em questão, intitulada Um prefeito sob controle judicial, Rabello, diretor da sucursal do Estado em Brasília, informou que o prefeito Roberto Góes (PDT), candidato à reeleição em Macapá, teve sua campanha limitada por restrições judiciais. Ele responde à ação penal por ter sido preso em flagrante, em setembro de 2010, por porte ilegal de arma de fogo. Além disso, ele passou dois meses preso graças à operação "Mãos Limpas", da Polícia Federal (PF), que desbaratou uma quadrilha que atuava em todas as instâncias de poder no Amapá. Rabello informou que Góes cumpre acordo judicial - ele não pode frequentar locais públicos e não pode sair do Estado por mais de um mês sem autorização judicial. Seus advogados, informou Rabello, dizem que ele ainda não foi condenado - sendo, portanto, um "ficha-limpa" - e pode fazer campanha como qualquer outro candidato.
Pois bem. A defesa de Góes entendeu que a memória do caso envolvendo o prefeito não era "contemporânea", ou seja, faz parte do passado. Portanto, ao "trazer os fatos à memória do eleitor", como diz a petição à Justiça, o blog de Rabello não tem outro objetivo senão "sujar a figura e a reputação do representante perante o eleitorado". Por essa lógica excêntrica, os advogados do prefeito trabalharam para censurar informações cuja veracidade eles não contestam, mas que consideram impertinentes neste momento. E o juiz eleitoral auxiliar Adão Joel Gomes de Carvalho a aceitou, arrematando o absurdo.
Embora espantoso, o caso de Macapá não é isolado. Em 2010, um juiz eleitoral do Tocantins, Liberato Póvoa, impôs censura prévia a diversos veículos de comunicação, entre eles o Estado, para impedi-los de publicar informações sobre possíveis fraudes no governo de Carlos Gaguim (PMDB), então candidato à reeleição. A coligação que apoiava o governador alegou que o noticiário sobre o escândalo favorecia a oposição, "constituindo uso indevido dos meios de comunicação". O desembargador Póvoa - que teve a mulher e a sogra nomeadas por Gaguim para cargos públicos - considerou as notícias "difamatórias".
Para estabelecer a censura, Póvoa invocou o "segredo de Justiça", conceito constantemente deturpado para banalizar a mordaça. Foi esse contorcionismo jurídico que embasou a decisão do desembargador Dácio Vieira, do Distrito Federal, de impedir o Estado de publicar notícias sobre a investigação da PF acerca de supostas ilegalidades cometidas pelo empresário Fernando Sarney, filho do senador José Sarney. Tal censura perdura há mais de 1.100 dias.
A situação da liberdade de imprensa no Brasil ainda está longe de se comparar à de vizinhos populistas como Venezuela, Equador e Argentina, nos quais a intimidação da imprensa é notória e cotidiana. No entanto, abundam no Brasil os casos de censura judicial,como demonstrou Paulo de Tarso Nogueira, integrante do Comitê Executivo da Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP), na última Assembleia-Geral da entidade. Ocorrem vetos absurdos não somente em relação ao noticiário supostamente negativo contra este ou aquele político, mas também contra a divulgação de pesquisas eleitorais supostamente desfavoráveis a determinadas candidaturas, como aconteceu neste ano no Ceará e em Mato Grosso do Sul. "É crescente a ampliação do poder discricionário de magistrados, especialmente os de primeiro grau, no julgamento de ações de antecipação de tutela e direito de resposta", disse Nogueira, enfatizando o óbvio atentado à liberdade de imprensa.
Por ocasião da censura no Tocantins, o professor de jornalismo Eugênio Bucci, da USP, perguntou: "O que impede amanhã que toda a imprensa seja censurada?". Como demonstra agora o caso de Macapá, tal questão continua perigosamente válida.